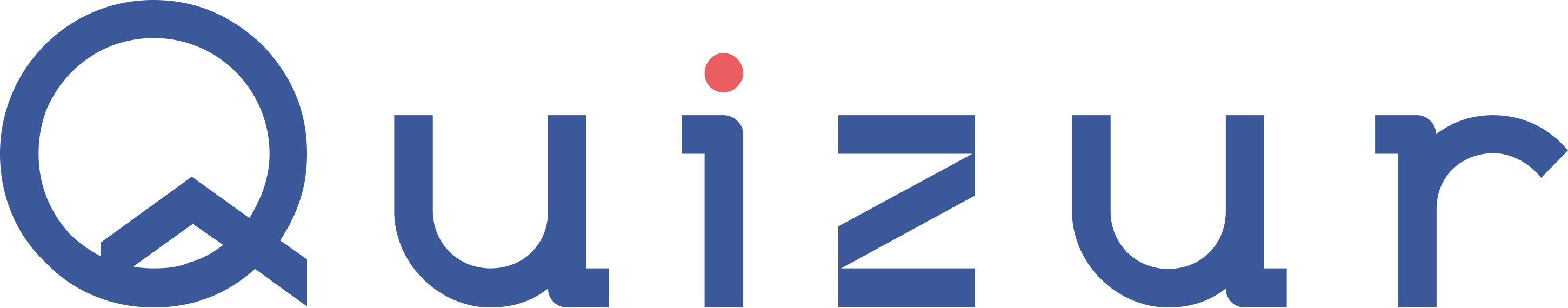Publicidade
01. (ENEM - 2018) “Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal – e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio a minha mãe: o culpado era o nó”. RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1998. Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela
e) utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados.
c) justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados.
a) alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo.
b) recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa.
d) indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados.
Publicidade
02. (ENEM) “A velha Totonha de quando em vez batia no engenho. E era um acontecimento para a meninada… Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem nenhum dente na boca, e com uma voz que dava todos os tons às palavras! Havia sempre rei e rainha, nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com as suas maldades e as suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram sempre castigados com mortes horríveis! O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino era como se estivesse falando dum engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam os seus personagens se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba-Azul era um senhor de engenho de Pernambuco.” (José Lins do Rego. Menino de Engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980, p. 49-51 (com adaptações). Na construção da personagem “velha Totonha”, é possível identificar traços que revelam marcas do processo de colonização e de civilização do país. Considerando o texto acima, infere-se que a velha Totonha:
c) retrata, na constituição do espaço dos contos, a civilização urbana europeia em concomitância com a representação literária de engenhos, rios e florestas do Brasil.
a) tira o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de vida e de trabalho, que denotam que ela enfrenta situação econômica muito adversa.
b) compõe, em suas histórias, narrativas épicas e realistas da história do país colonizado, livres da influência de temas e modelos não representativos da realidade nacional.
e) imprime marcas da realidade local a suas narrativas, que têm como modelo e origem as fontes da literatura e da cultura europeia universalizada.
d) aproxima-se, ao incluir elementos fabulosos nos contos, do próprio romancista, o qual pretende retratar a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia.
03. (ENEM) “No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua: uma do Norte e outra do Sul, regiões segundo ele muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos etc. Por isso, deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Moog, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais.” (CANDIDO, A. A nova narrativa. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 2003.) Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que:
c) o romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos.
e) Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo.
b) José de Alencar, representante, sobretudo, do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças.
d) a literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo.
a) o romance do Sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia.
Publicidade
04. (CESPE – 2017) Texto: O nosso Modernismo importa, essencialmente, na libertação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são trazidos triunfalmente à tona da consciência literária. Esse sentimento de triunfo, que assinala o fim da posição de inferioridade no diálogo secular com Portugal e já nem o leva mais em conta, define a originalidade própria do Modernismo na dialética do geral e do particular. Na nossa cultura há uma ambiguidade fundamental: a de sermos um povo latino, de herança cultural europeia, mas etnicamente mestiço, situado no trópico, influenciado por culturas primitivas, ameríndias e africanas. Essa ambiguidade deu sempre às afirmações particularistas um tom de constrangimento, que geralmente se resolvia pela idealização. O Modernismo rompe com esse estado de coisas. As nossas deficiências, supostas ou reais, são reinterpretadas como superioridades, através das vanguardas. A filosofia cósmica e superficial, que alguns adotaram certo momento nas pegadas de Graça Aranha, atribui um significado construtivo, heroico, ao cadinho de raças e culturas localizado numa natureza áspera. O mulato e o negro são definitivamente incorporados como temas de estudo, inspiração, exemplo. O primitivismo é agora fonte de beleza e não mais empecilho à elaboração da cultura. Isso, na literatura, na pintura, na música, nas ciências do homem. Antonio Candido. Literatura e cultura de 1900 a 1945. In: Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, p. 126-7 (com adaptações) De acordo com o texto, o Modernismo renova a estética literária brasileira porque:
c) produz uma estética desvinculada da realidade brasileira.
e) rebaixa criticamente grupos sociais marginalizados.
d) idealiza a natureza brasileira e os seus habitantes.
a) acentua a crítica às deficiências nacionais.
b) valoriza esteticamente elementos anteriormente rebaixados.
05. (FUVEST) (...) procurei adivinhar o que se passa na alma duma cachorra. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono, e padre Zé Leite pretende que eles nos venham em sonhos, mas no fundo todos somos como a minha cachorra Baleia e esperamos preás. (...) Carta de Graciliano Ramos a sua esposa (...) Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras: àquela hora cheiros de suçuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde sinha Vitória guardava o cachimbo. (...) Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Graciliano Ramos, Vidas secas. As declarações de Graciliano Ramos na Carta e o excerto do romance permitem afirmar que a personagem Baleia, em Vidas secas, representa
c) Os desejos incompatíveis com os de Fabiano.
d) A crença em uma vida sobrenatural
b) Os anseios comunitários de justiça social.
e) O desdém por um mundo melhor.
a) O conformismo dos sertanejos.
Publicidade
06. (UNIVESP) Leia o trecho de Menino de engenho, de José Lins do Rego, para responder a questão. Eu passava o dia inteiro rondando os oficiais nas suas confidências. Contavam a história de uns carpinas num engenho do Brejo. – O senhor de engenho só mandava para eles bacalhau, na janta e no almoço. Passavam o dia inteiro bebendo água com a boca seca. Um dia um deles disse para o negro que não gostava de bacalhau, que não aguentava mais aquilo. No outro dia o tabuleiro com a comida chegou: era peru. E peru de tarde. E a semana toda, peru. Num domingo, o mestre saiu para dar umas voltas nos arredores. Viu um negro com uma porção de urubus nas costas: – O que é isto, moleque? – É peru pros carpinas. Os oficiais anoiteceram e não amanheceram na propriedade. E rebentou ferida pelo corpo deles. Estiveram para morrer um tempão. (Menino de engenho. Rio de Janeiro, José Olympio, 2000) Publicado em 1932, Menino de engenho representa a prosa
e) Naturalista engajada com o estudo do comportamento humano a partir da ciência.
c) Psicológica especializada em investigar o funcionamento da mente humana.
a) Regionalista comprometida em retratar a vida de moradores do Nordeste brasileiro.
b) Romântica voltada para a exaltação idealizada do território brasileiro e sua gente.
d) Surrealista empenhada em empregar a lógica dos sonhos na criação ficcional.
07.(ACAFE) Sobre a obra Capitães de Areia, de Jorge Amado, é correto afirmar:
b) Um dos filhos de Fabiano – o "menino mais velho", assim denominado na narrativa – tem obsessão pela palavra "inferno" e não admite que ela fique apenas no reino da
descrição incompleta (a mãe fala vagamente em garfos quentes ou coisa que o valha...).
c) O livro, publicado em 1932, faz referências a crendices populares, como a do lobisomem, que é citada através de João Cutia, um comprador de ovos da Paraíba. “Não tinha uma gota de sangue na cara e andava sempre de noite, para melhor fazer as suas caminhadas, sem sol.” Achava-se que ele era lobisomem.
a) No capítulo “Negrinha”, Jorge Amado explora reminiscências de sua infância quando convivia com uma vizinha, moradora de um casarão, nas proximidades do velho trapiche.
d)Na década de 1930, no sertão nordestino, Lampião e seu bando representavam uma força social que lutava contra o latifúndio e contra a figura do fazendeiro-coronel. No romance de Jorge Amado, os menores abandonados admiravam o grupo de Lampião. No livro o grupo de Lampião chega a ser descrito como "o braço armado dos pobres no sertão".
Publicidade
08.(Enem) “A verdade é que não me preocupo muito como outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores, mal remunerados cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue que, em parte, ela é dispensável a um homem. Mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista. Bonito casamento! Amizade com o Padilha, aquele imbecil. “Palestras amenas e variadas”. Que haveria nas palestras? Reformas sociais, ou coisa pior. Sei lá! Mulher sem religião é capaz de tudo”. RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1981, p. 131 Uma das características da prosa de Graciliano Ramos é ser bastante direta e enxuta. No romance São Bernardo, o autor faz a análise psicológica de personagens e expõe desigualdades sociais com base na relação entre patrão e empregado, além da relação conjugal. Nesse sentido, o texto revela
b) um narrador onisciente que não participa da história, conhecedor profundo do caráter machista de Paulo Honório e da sua ideologia política.
a) um narrador-personagem que coloca no mesmo plano Deus e o diabo e defende o livre-arbítrio feminino no tocante à religião.
d) um discurso em primeira pessoa que transmite o caráter ambíguo da religiosidade do personagem e sua convicção acerca da relação que a mulher deve ter com a religião.
e) um narrador alheio às questões socioculturais e econômicas da sociedade capitalista e que defende a divisão dos bens e o trabalho coletivo como modo de organização social e política.
c) uma narração em terceira pessoa que explora o aspecto objetivo e claro da linguagem para associar o espaço interno do personagem ao espaço externo.
Publicidade
ComentáriosÚltima atualização: -
Clique aqui e seja o primeiro a comentar!
Você vai gostar também
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade